O cineasta francês Eric Rohmer morreu nesta segunda-feira (11 de janeiro de 2010), em Paris, aos 89 anos.
Naquela manhã com ares de outono, em 2004, quando adentrei em sua sala na sede da produtora Les Films du Losange, em Paris, o cineasta francês Eric Rohmer de pronto me levou até diante da lareira, sobre a qual repousava uma máscara mortuária negra. "Você sabe quem é?", indagou, certo de que eu não decifraria a charada. E sem me dar alguma chance de tentar adivinhar, acrescentou, esboçando um leve sorriso no rosto: "É Murnau". Alcunhado de "poeta" do expressionismo alemão - o "arquiteto" era Fritz Lang (1890-1976) -, Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) contribuiu para levar o cinema além do teatro filmado. Então com 84 anos, Eric Rohmer, que me recebia para uma entrevista para a revista Bravo!, reivindicava o poder da palavra nas telas, mas, inspirado no mestre alemão, refutava o rótulo de autor de cinema falado. Ele defendia a palavra como um elemento cinematográfico. Razão pela qual igualmente admirava D.W. Griffith (1875-1948) como um grande cineasta do texto e da imagem. "O cinema será sempre uma arte do movimento. Detesto o estatismo. A imagem deve viver por si mesma", dizia.
Já sentado à minha frente, reafirmou sua preferência pela dupla Lang-Murnau: "Gosto dos dois. Não é o mesmo estilo, mas são dois grandes mestres, e são os meus mestres. Eu os revejo por vezes, mas não os copio. Eles me dão uma excitação benéfica", disse.
Eric Rohmer não alcançou sucesso em sua estréia, com o filme Le Signe du Lion (1959). A experiência, no entanto, não o impediu de construir uma obra expressiva e coerente (o ciclo de Seis Contos Morais - composto de filmes como A Colecionadora (1967), Uma Noite com Ela (1969) ou O Joelho de Claire (1970) -; as séries narrativas Comédia e Provérbios e Contos das Quatro Estações; ou "filmes solitários" como a A Inglesa e o Duque (2001), Agente Triplo (2004) e Les amours d'Astree et de Céladon (2007).
Seu cinema reflete uma inspiração literária, sutil e fiel à construção da ação pela palavra. Não por acaso, o cineasta aprecia particularmente as retrospectivas de seu trabalho, exibindo os títulos num conjunto: "Gosto que meus filmes sejam revistos como se relê um livro. É a parte de escritor que tenho em mim", confessou.
No caso de Rohmer, o escritor precedeu o cineasta. Na seqüência de sua formação literária, publicou, em 1946, o romance Elisabeth. Mais tarde, antes de se instalar atrás das câmeras, sua relação com o cinema passou pelo texto. Em 1957, lançou, em coautoria com Claude Chabrol, um ensaio sobre Alfred Hitchcock, também uma de suas maiores referências. "Hoje os diretores já não se interessam tanto pela narração. Os filmes são mal feitos e bastante tediosos por causa disso. Não se sabe para onde se vai. O suspense hitchcokiano desapareceu. Hitchcock é alguém que sabe compor de forma extraordinária. O Homem que Sabia Demais (1956) não é o melhor de seu filmes, é um tanto superficial, mas tem uma composição e um rigor extraordinários. Pode-se dizer a mesma coisa dos filmes de Howard Hawks, John Ford. São obras-primas da narração. Hoje, já não se sabe mais contar histórias. Em Hitchcock há um conteúdo ligado à forma. A forma é interessante porque ela exprime temas bastante dostoievskianos, como a duplicidade, o segredo, a transferência. São temas dos quais a crítica ordinária não falava, mas eu, Chabrol, Truffaut, Godard, nós todos insistimos muito sobre esses aspectos de Hitchcock, sobre os quais ele mesmo não parecia, aliás, ter muita consciência", disse, rindo.
Como crítico de cinema, Rohmer exercitou suas análises sobre filmes, diretores e teorias sobre a sétima arte em revistas especializadas como La Revue du Cinéma, Les Temps Modernes, Arts e La Gazette du Cinéma, até a fundação da mítica Cahiers du Cinéma, da qual foi editor-chefe entre 1957 e 1963.
No Cahiers, fermentou, junto com os companheiros cineastas cinéfilos Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette e o próprio Chabrol o surgimento da estética da Nouvelle Vague, desconstrução narrativa e subversão na forma de se fazer cinema na época. "Acredito que a Nouvelle Vague mudou muita coisa. O cinema não foi o mesmo depois. Antes, no cinema francês, se filmava na maior parte do tempo em estúdio e as cenas exteriores eram negligenciadas. A Nouvelle Vague trouxe também um tom mais pessoal. Há uma forma de atuar na qual há mais naturalidade do ator. Surgiram também novos atores, como Jean-Pierre Léaud, que começou bastante jovem com François Truffaut. O mesmo se deu com Godard e Jen-Paul Belmondo. No geral, renovamos o elenco, não filmamos com os atores de nossos precursores. Os italianos gostam de dizer que a Nouvelle Vague mudou a forma de produzir, mas não criou um novo estilo, como no caso do neo-realismo. Eu não concordo. As coisas estão relacionadas. Uma nova forma de produzir filmes, com mais leveza de meios, menos técnicos, tudo isso influi no estilo. Atualmente, há um retorno a um cinema mais pesado, realizado mais no estúdio e menos na rua. Não se faz mais filmes como Os Incompreendidos (François Truffaut, 1959), Paris Nos Pertence (Jacques Rivette, 1958), Acossado (Jean-Luc Godard, 1960) ou Le Signe du Lion, nos quais havia mais liberdade de filmagem e uma certa improvisação", disse.
Rohmer defendia a vinculação da cena com os bastidores e uma direção de ator mais livre: "Nós demos mais liberdade aos atores. Por vezes, fizemos mesmo filmes que eram pura improvisação. Tínhamos um mestre, que, aliás, morreu recentemente, e era nosso precursor, Jean Rouch (1917-2004), que filmou na África. Pessoalmente, em Paris, eu fiz um filme no qual não havia roteiro, os atores inventavam seus diálogos. Foi o único que fiz assim, O Raio Verde (1986). Em outros filmes meus, há roteiros, mas há também uma forte colaboração com os atores, na forma de falar, na linguagem, nas expressões. Em A Árvore, o Prefeito e a Mediateca (1992), um dos que prefiro, me inspirei de coisas do momento, da atualidade, no décor. Essa forma de partir da realidade, em vez de partir de uma invenção e buscar a realidade correspondente, é algo próprio a mim e também a Nouvelle Vague". Com uma certa nostalgia, disse lamentar a perda do poder da palavra no cinema contemporâneo: "Escutamos muito menos a palavra hoje do que antes. Os atores articulam mal. Eles falam baixo, muitas vezes há músicas cobrindo suas vozes, e com freqüência eles não dizem coisas muito interessantes. Antes, a palavra era mais clara. O cinema perdeu nessa área. Mas poderíamos dizer também que ele perdeu no domínio da imagem. Em filmes mudos vemos imagens extremamente expressivas e fortes. Hoje, todas essas imagens se diluem num tipo de caos bastante inexpressivo. Vejo menos imagens fortes no cinema atual, talvez, do que no cinema mudo e dos anos 1930, um período extraordinário para o cinema".
Em seus filmes, o diretor recusava a etiqueta do moralismo fácil e defendia uma "verdade de linguagem": "O bom e o mau são a mesma pessoa, esse é o lado Dostoiévski. É preciso remontar aos gregos para encontrar essa definição. Aristóteles disse que o herói da tragédia não deve ser nem totalmente bom nem totalmente mau. Fui fiel a essa regra. Milan Kundera disse que não pode haver romance num regime totalitário, porque num bom romance não pode haver o lado dos bons e o dos maus". Normalmente avesso a rótulos, Rohmer, diretor e roteirista da grande maioria de seus filmes, assumia e defendia a etiqueta de "cinema de autor". Mais apreciado no exterior do que em seu próprio país, produzia mais preocupado com a fidelidade de seu público do que com as bilheterias de seus filmes. "Prefiro um público restrito, mas fiel, e ao mesmo tempo um público disperso em diferentes países. Na França, não tenho muito sucesso, mas sim no estrangeiro, nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Espanha, Itália. Atualmente, meus primeiros filmes começam a ser distribuídos na Rússia. Mais um país".
Ao final de nosso encontro matinal, antes de se despedir, buscou na prateleira um exemplar da edição brasileira de Ensaio sobre a Noção de Profundidade na Música - Mozart em Beethoven (ed. Imago, 1997), de sua autoria. Abriu na primeira página, pegou uma caneta e escreveu na dedicatória: "Para falar de outra coisa que de cinema".
Fernando Eichenberg
De Paris
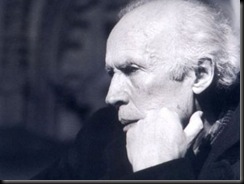



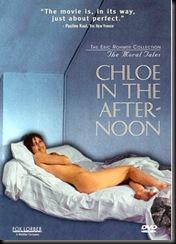

Nenhum comentário:
Postar um comentário